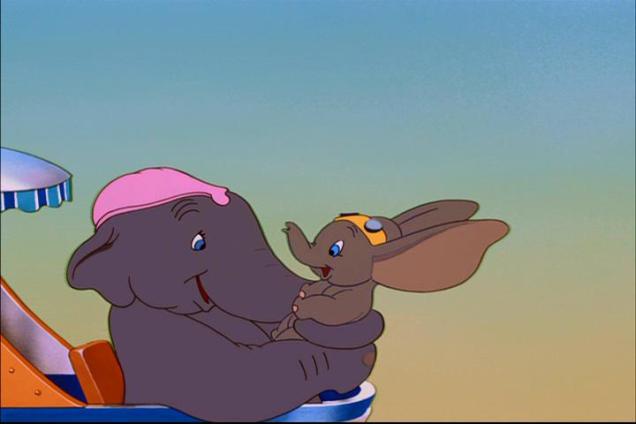(Bambi)
Filmes em Geral #50
Videoteca do Beto #149 (Filme comprado após ter a crítica divulgada no site e transferido para a Videoteca em 06 de Janeiro de 2013)
Dirigido por David Hand.
Elenco: Vozes de Bobby Stewart, Donnie Dunagan, Hardie Albright, John Sutherland, Stan Alexander, Sterling Holloway, Sam Edwards, Peter Behn, Tim Davis, Cammie King, Ann Gillis, Mary Lansing, Margaret Lee, Thelma Boardman, Will Wright, Paula Winslowe, Fred Shields, Janet Chapman, Jack Horner, Dolyn Bramston Cook, Marion Darlington e Bobette Audrey.
Roteiro: Perce Pearce e Larry Morey, baseado em livro de Felix Salten.
Produção: Walt Disney.
 [Antes de qualquer coisa, gostaria de pedir que só leia esta crítica se já tiver assistido ao filme. Para fazer uma análise mais detalhada é necessário citar cenas importantes da trama].
[Antes de qualquer coisa, gostaria de pedir que só leia esta crítica se já tiver assistido ao filme. Para fazer uma análise mais detalhada é necessário citar cenas importantes da trama].
Os primeiros anos da Walt Disney Pictures no cinema foram impressionantes. Após a bem sucedida estréia de “Branca de Neve e os Sete Anões”, os estúdios comandados por Walt Disney emplacaram um sucesso atrás do outro, conseguindo agradar público e crítica e dando a sensação de que eles eram simplesmente incapazes de errar. E entre as marcantes obras daquele período está “Bambi” (que na realidade só se confirmou como um sucesso cinco anos depois, em seu relançamento), a encantadora história do “príncipe” da floresta, que mantém o alto padrão de qualidade dos filmes do estúdio, conseguindo agradar jovens e adultos.
Momentos após o seu nascimento, o filhote de cervo “Bambi” já chamava a atenção dos outros animais, sendo chamado de “Príncipe da Floresta”. Com o passar do tempo, ele aprende a andar, correr, faz amizade com outros animais e descobre, ao lado de sua carinhosa mãe, como sobreviver na floresta e, principalmente, como amar. Mas esta relação fraternal acaba no dia em que caçadores chegam ao local, obrigando o jovem cervo a se tornar tão corajoso quanto o seu pai, o mais respeitado cervo da região, e liderar sua espécie na busca por um local mais seguro.
Se a qualidade da narrativa de “Bambi” mantém o padrão Disney estabelecido em filmes como “Pinóquio” e “Dumbo”, o mesmo pode ser dito das animações em si, que também apresentam um trabalho bastante crível e realista, notável desde os primeiros planos que nos levam pelas árvores, sob o som dos pássaros e da bela trilha sonora de Edward H. Plumb e Frank Churchill, nos ambientando a floresta. Em seguida, o nascimento do príncipe Bambi marca o início da bela trajetória do protagonista, num evento que chama a atenção de muitos animais que, com seu visual colorido, trazem vida à tela. E estas deliciosas imagens permanecerão até que, aos 5 minutos de filme, a primeira fala aconteça, dando inicio ao processo de desenvolvimento do jovem cervo que será acompanhado de perto pelo espectador, deixando claro desde o início o interessante paralelo traçado pela narrativa entre a formação de “Bambi” e a de um ser humano. Como todos nós, ele aprenderá a andar e falar, sempre demonstrando muita curiosidade, da mesma maneira que qualquer “criança” faria (repare como Bambi se destaca dos demais por causa de sua cor, numa estratégia visual inteligente). Esta curiosidade será responsável por aproximar os laços entre Bambi e sua mãe, que pacientemente ensina os caminhos da vida ao filho, numa relação que é desenvolvida com muito cuidado, preparando o espectador para o trágico momento em que o cervo será obrigado a seguir sozinho, deixando uma lição de vida emblemática que as crianças dificilmente esquecerão. Só que o roteiro escrito por Perce Pearce e Larry Morey, baseado em livro de Felix Salten, não se resume a demonstrar o ciclo natural da vida apenas sob o aspecto da relação entre pais e filhos, mostrando também como os jovens se comportam diante do sexo oposto, numa aproximação que será essencial para perpetuar a espécie. Repare, por exemplo, a reação tímida de Bambi em seu primeiro contato com Faline, ainda quando era “criança”, e compare com a reação típica da maioria dos garotos, normalmente mais arredios diante do sexo oposto do que as meninas na infância. O propósito do longa é claro: ensinar as diversas etapas da vida que cada “bambino” deverá enfrentar, mais cedo ou mais tarde. E para evitar que esta jornada soe cansativa ou aborrecida, o roteiro inteligentemente insere alguns personagens que acompanharão Bambi, como o divertido e preguiçoso gambá Flor e o teimoso coelhinho Tambor, que é responsável pelos momentos de alivio cômico da narrativa.


 Também como na maioria das animações da Disney, a trilha sonora de Edward H. Plumb e Frank Churchill preenche boa parte da narrativa, assim como os diversos números musicais, dentre os quais merece destaque o que acontece quando Bambi acompanha a primeira chuva de sua vida. Aliás, em “Bambi” o clima tem importante função narrativa, indicando a passagem do tempo através das estações, como o rigoroso inverno que “parece cumprido” e a colorida primavera que traz de volta a alegria à narrativa, após um momento melancólico. E já que citei a passagem do tempo, vale ressaltar que o longa, com apenas uma hora e dez minutos de duração, tem um bom ritmo, o que é mérito da montagem, essencial também nas cenas mais tensas, principalmente quando o homem começa a interferir na vida dos animais. Tensa também é a tempestade que assusta o protagonista, numa das seqüências que ilustram a boa condução de David Hand (sem trocadilhos), que cria uma atmosfera sombria através dos raios que iluminam a tela momentaneamente, voltando à escuridão em seguida e, após o fim da tempestade, estabelecendo um belo contraste através dos pássaros que repousam num galho com a luz do sol ao fundo. E são os pássaros (e a trilha agitada) que indicam a chegada de um temível predador, assustando o restante dos animais, que saem em disparada – e a tristeza é inevitável ao constatar que este predador é o homem quando o som dos tiros surge. Aliás, todas as cenas que envolvem a figura humana são tensas, justamente por causa do ritmo empregado pelo diretor, que mantém o espectador atento e sempre torcendo pelos animais através da alternância entre os planos que ilustram o desespero de todos com a presença daquele invasor. Por isso, quando Bambi pergunta “Porque todos nós corremos, mamãe?”, a resposta, triste e verdadeira, soa como uma facada no coração do espectador: “Porque o homem esteve na floresta”. Finalmente, vale destacar a bela composição de alguns planos, como o zoom que destaca o líder dos cervos ou quando Bambi e sua mãe caminham pela floresta, com suas imagens refletindo na água do rio.
Também como na maioria das animações da Disney, a trilha sonora de Edward H. Plumb e Frank Churchill preenche boa parte da narrativa, assim como os diversos números musicais, dentre os quais merece destaque o que acontece quando Bambi acompanha a primeira chuva de sua vida. Aliás, em “Bambi” o clima tem importante função narrativa, indicando a passagem do tempo através das estações, como o rigoroso inverno que “parece cumprido” e a colorida primavera que traz de volta a alegria à narrativa, após um momento melancólico. E já que citei a passagem do tempo, vale ressaltar que o longa, com apenas uma hora e dez minutos de duração, tem um bom ritmo, o que é mérito da montagem, essencial também nas cenas mais tensas, principalmente quando o homem começa a interferir na vida dos animais. Tensa também é a tempestade que assusta o protagonista, numa das seqüências que ilustram a boa condução de David Hand (sem trocadilhos), que cria uma atmosfera sombria através dos raios que iluminam a tela momentaneamente, voltando à escuridão em seguida e, após o fim da tempestade, estabelecendo um belo contraste através dos pássaros que repousam num galho com a luz do sol ao fundo. E são os pássaros (e a trilha agitada) que indicam a chegada de um temível predador, assustando o restante dos animais, que saem em disparada – e a tristeza é inevitável ao constatar que este predador é o homem quando o som dos tiros surge. Aliás, todas as cenas que envolvem a figura humana são tensas, justamente por causa do ritmo empregado pelo diretor, que mantém o espectador atento e sempre torcendo pelos animais através da alternância entre os planos que ilustram o desespero de todos com a presença daquele invasor. Por isso, quando Bambi pergunta “Porque todos nós corremos, mamãe?”, a resposta, triste e verdadeira, soa como uma facada no coração do espectador: “Porque o homem esteve na floresta”. Finalmente, vale destacar a bela composição de alguns planos, como o zoom que destaca o líder dos cervos ou quando Bambi e sua mãe caminham pela floresta, com suas imagens refletindo na água do rio.
Numa destas caminhadas, Bambi encontra um pouco de grama pra comer no meio da neve. Enquanto o filhote se delicia, a mamãe atentamente escuta algo que se aproxima. E quando ela ergue a cabeça e a trilha sombria volta a tocar, sentimos a tragédia iminente. Mamãe grita para Bambi correr, os dois saem em disparada e a cena caminha em ritmo alucinante até o emblemático plano em que vemos Bambi passando correndo e, em seguida, a tela vazia, segundos após outro som de tiro. A fotografia sombria da cena seguinte, que chega a deixar Bambi completamente cinza, dá o tom do momento em que o grande cervo anuncia: “Sua mãe não pode mais ficar com você, meu filho”. A lágrima dele e a trilha sonora melancólica encerram a eficiente cena, que emociona sem ser exageradamente melodramática.


 Após o trauma, a vida segue e Bambi continua crescendo. Seus belos chifres simbolizam a chegada da adolescência, uma fase onde a vaidade está em alta e por isso ele se mostra orgulhoso de seu novo visual. Seus amigos Tambor e Flor também crescem e passam a escutar atentamente os ensinamentos da velha coruja, que fala aos jovens sobre como é se apaixonar, em outra cena bela. Cheios de orgulho, os três afirmam que isto nunca vai acontecer com eles, mas, obviamente, se apaixonam logo em seguida, afinal de contas, esta é a vida. E numa interessante rima narrativa, o segundo encontro entre Faline e Bambi acontece da mesma forma que o primeiro (quando eles ainda eram filhotes), com ambos se olhando através do reflexo na água. Mas desta vez a timidez de Bambi não impedirá que ela se aproxime e lamba o rosto dele, fazendo com que o casal se sinta nas nuvens, como ilustrado nas belas imagens seguintes, num momento único que pode ser comparado ao primeiro beijo de um adolescente. Apaixonado, Bambi lutará o quanto for preciso para defender a amada, o que nos leva à outra cena marcante, em que ele luta com outro cervo sob um visual sombrio, graças às cores escuras que predominam na tela.
Após o trauma, a vida segue e Bambi continua crescendo. Seus belos chifres simbolizam a chegada da adolescência, uma fase onde a vaidade está em alta e por isso ele se mostra orgulhoso de seu novo visual. Seus amigos Tambor e Flor também crescem e passam a escutar atentamente os ensinamentos da velha coruja, que fala aos jovens sobre como é se apaixonar, em outra cena bela. Cheios de orgulho, os três afirmam que isto nunca vai acontecer com eles, mas, obviamente, se apaixonam logo em seguida, afinal de contas, esta é a vida. E numa interessante rima narrativa, o segundo encontro entre Faline e Bambi acontece da mesma forma que o primeiro (quando eles ainda eram filhotes), com ambos se olhando através do reflexo na água. Mas desta vez a timidez de Bambi não impedirá que ela se aproxime e lamba o rosto dele, fazendo com que o casal se sinta nas nuvens, como ilustrado nas belas imagens seguintes, num momento único que pode ser comparado ao primeiro beijo de um adolescente. Apaixonado, Bambi lutará o quanto for preciso para defender a amada, o que nos leva à outra cena marcante, em que ele luta com outro cervo sob um visual sombrio, graças às cores escuras que predominam na tela.
Mas certamente as cenas mais sombrias acontecem no ato final, quando o homem parte para a caçada e Bambi finalmente assume o posto de líder do grupo, conduzindo os cervos para um local seguro ao mesmo tempo em que enfrenta o homem (e seus cachorros) no caminho, quando volta para salvar Faline. É verdade que Bambi não sairá ileso deste confronto, mas o tiro que leva felizmente não será fatal como o de sua mãe. Vale destacar ainda que toda a seqüência da fuga apresenta um visual deslumbrante, também por causa do incêndio (provocado pelo homem) que assola a floresta, que confere um aspecto infernal à cena, graças ao predomínio do vermelho e do amarelo, e serve como uma forte crítica à interferência do homem na natureza. Somos os demônios responsáveis por aquela tragédia e a cena ilustra isto – e a triste imagem dos animais tentando se recuperar na beira do rio, com a floresta destruída, reforça esta sensação. Mas a vida recomeça para todos e a natureza mais uma vez se renova com vigor, com a chegada dos novos príncipes cervos que recomeçam o ciclo da vida, ilustrado no zoom out que encerra o longa, destacando o agora poderoso Bambi, um adulto formado e com sua própria família, como fora seu pai um dia.
Além do belo visual e da narrativa coesa, “Bambi” aborda as diversas etapas da formação de seu jovem cervo, numa interessante metáfora para os próprios seres humanos. Acompanhamos Bambi aprendendo a andar, a falar, a brincar, a comer, a se proteger do perigo, a se apaixonar, constituir uma família e se tornar, com o passar do tempo, o que seus pais eram quando ele nasceu, assim como todos nós provavelmente fizemos ou faremos um dia.